A produtividade alta é uma exigência comum em cursos de pós-graduação, mas quando isso passa do aceitável?
A expressão “publicar ou perecer” sintetiza uma máxima da academia, na qual pesquisadores são pressionados a produzir publicações continuamente para garantir financiamento, estabilidade profissional ou reconhecimento.
Contudo, essa cultura evoluiu para um fenômeno chamado produtividade tóxica.
Uma busca insustentável por resultados que prioriza quantidade em detrimento da qualidade, frequentemente às custas do bem-estar dos pesquisadores e da integridade científica.
As raízes da produtividade tóxica
Influências neoliberais na academia
A academia moderna opera sob princípios neoliberais que tratam a produção de conhecimento como uma mercadoria.
Universidades adotam modelos de gestão corporativa, vinculando financiamento e prestígio a métricas quantitativas, como número de publicações, citações e captação de recursos (Deem et al., 2008).
Essa mudança prioriza “eficiência” em vez de exploração intelectual, reduzindo a pesquisa a uma atividade transacional.
Sistemas de avaliação baseados em métricas
Indicadores como o índice h, fator de impacto de revistas e rankings institucionais dominam as avaliações acadêmicas.
Embora projetados para medir excelência, esses critérios frequentemente incentivam produtividade superficial.
Por exemplo, pesquisadores podem priorizar revistas de “alto impacto” em vez de trabalhos rigorosos ou inovadores, perpetuando conformidade (Woelert & McKenzie, 2018).
Precariedade e competição
Bolsas, pouco financiamento e a escassez de vagas com tenure intensificam a pressão.
Pesquisadores em início de carreira, em particular, enfrentam o dilema de “publicar ou perecer” para garantir emprego, levando à sobrecarga e insegurança laboral (Archer, 2008).
Consequências da produtividade tóxica
Crise de saúde mental
Estudos revelam taxas alarmantes de ansiedade, depressão e esgotamento entre acadêmicos.
Uma pesquisa seminal mostrou que 32% dos doutorandos correm risco de desenvolver transtornos psiquiátricos, muitas vezes ligados à pressão por publicar (Levecque et al., 2017).
A pandemia de COVID-19 agravou esses estresses, borrando limites entre vida pessoal e trabalho (Woolston, 2020).
Erosão da qualidade da pesquisa
A corrida por publicações incentiva práticas questionáveis, como por exemplo o fatiamento de pesquisas (salami slicing), que consiste em dividir um único estudo em múltiplos artigos para inflar números.
Ou a submissão em periódicos de baixa qualidade e revistas predatórias, que priorizam taxas em vez de revisão rigorosa.
Além de mais casos de manipulação de dados ou plágio, como em retratações de alto perfil (Fanelli, 2009).
E uma homogeneização do conhecimento, ou seja, pesquisadores podem evitar temas arriscados ou inovadores para seguir tendências “vendáveis”, sufocando a criatividade.
Tem como mudar?
A produtividade tóxica na academia não é uma falha individual, mas uma crise sistêmica enraizada em lógicas de mercado.
Embora estratégias de resiliência pessoal ofereçam alívio temporário, mudanças duradouras exigem desmontar o paradigma de “publicar ou perecer”.
Ao valorizar qualidade, bem-estar e ética, a academia pode resgatar seu propósito como espaço de conhecimento guiado pela curiosidade e benefício social.
Combater a produtividade tóxica nas universidades exige uma abordagem multifacetada, envolvendo desde mudanças culturais até reformas institucionais.
A chave está em substituir a lógica do “quantidade acima de tudo” por sistemas que valorizem qualidade, bem-estar e colaboração.
Ambientes saudáveis não só aumentam a satisfação, mas também impulsionam a inovação e o impacto real da pesquisa.
Mas isso, infelizmente, está longe de ser a realidade da maioria dos programas de pós-graduação.
E você? O que pensa a respeito?
Compartilhe conosco suas experiências!




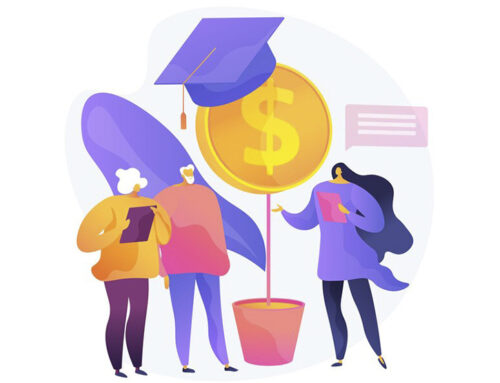

Deixe uma resposta